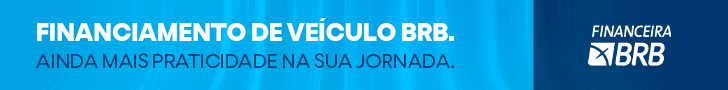A carta do Ministro Luís Roberto Barroso é, à primeira vista, um exercício de serenidade institucional. Escrita em tom diplomático, ela se oferece como um escudo contra as críticas crescentes ao Supremo Tribunal Federal, tanto internas quanto externas. Porém, sob essa superfície de compostura, o texto revela aquilo que os bons leitores chamariam de dissonância performativa: diz-se uma coisa, faz-se outra.
Barroso começa afirmando que o Judiciário está “sujeito a críticas”. E de fato está — como deveria estar. Mas o que se viu nos últimos anos foi o uso sistemático de mecanismos judiciais para transformar críticas em ataques, divergência em desinformação, opinião em crime. A repressão não se dá por proibição explícita, mas por meio de uma pedagogia do medo: jornalistas investigados, parlamentares censurados, contas bloqueadas, algoritmos policiados. É a censura sem cartaz, o arbítrio com fala de democracia.
O ministro lista decisões antigas e corretas do STF — como a revogação da Lei de Imprensa e a liberação do humor político — como provas de compromisso com a liberdade de expressão. Mas essas decisões pertencem a outro contexto, outra corte, outro momento histórico. Usá-las como álibi para o presente é como exibir o diploma de um curso para justificar ações que contradizem seu conteúdo.
Em seguida, Barroso defende a atuação do STF nas plataformas digitais, classificando-a como “moderada” e até “avançada”. A narrativa é sedutora: algoritmos proativos apenas para crimes gravíssimos, notificações privadas para ilícitos em geral, ordem judicial para o restante. À primeira vista, parece razoável — quase técnica, quase neutra.
Mas essa aparência esconde uma realidade bem distinta. O que se vê na prática não é um modelo regulatório balizado por transparência e devido processo, mas uma atuação marcada por inquéritos de ofício, ordens sigilosas, ausência de contraditório, remoções sumárias, muitas vezes decididas monocraticamente. O formalismo da descrição institucional contrasta com a informalidade do método concreto. O discurso da ponderação serve, aqui, como biombo retórico para práticas opacas e concentradoras.
E é exatamente neste ponto que se manifesta a violação mais profunda: a ruptura da separação de poderes. Porque o que está em jogo vai além da forma como o Supremo aplica o direito — diz respeito ao tipo de poder que ele passou a exercer. Ao estabelecer, de forma geral e abstrata, critérios normativos de conduta, o STF ultrapassa sua função jurisdicional. Ele não interpreta um texto legal em um caso concreto — ele legisla de fato.
Define obrigações para empresas privadas. Estipula quando e como conteúdos devem ser removidos. Determina deveres de atuação algorítmica. Estrutura, enfim, uma política pública digital, com pretensão de eficácia erga omnes. E tudo isso sem passar pelo debate parlamentar, sem deliberação legislativa, sem sufrágio. É a assunção de um poder normativo sem representação e sem accountability democrático.
A violência hermenêutica aqui não está apenas no conteúdo da decisão, mas na usurpação da instância competente. Quando o Judiciário se arroga o direito de criar deveres gerais fora dos limites da jurisdição concreta, ele não está protegendo a Constituição — está a reescrevendo. Em nome da omissão legislativa, preenche lacunas com caneta que não recebeu do povo. Não atua como guardião do texto, mas como seu autor provisório e permanente.
E não só legisla: também ensaia o papel de interlocutor externo da República. Em sua carta, Barroso emite sinais de comunicação diplomática, apresentando o Judiciário como representante internacional da moderação institucional brasileira. No entanto, nossa Constituição é clara: não cabe ao Poder Judiciário conduzir relações exteriores. Essa é uma atribuição do Poder Executivo, por meio da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores.
Quando um ministro do Supremo se coloca como porta-voz da ordem democrática perante a comunidade internacional, ainda que de forma velada, está extrapolando suas funções e tensionando a estrutura clássica da separação de poderes.
Isso não é interpretação. Isso é ingerência. E ingerência travestida de virtude.
Barroso encerra sua carta com um apelo aos valores que “nos unem”: soberania, democracia, liberdade e justiça. Mas aqui emerge o ponto mais sensível: a linguagem dos valores, quando pronunciada por quem concentra poder, torna-se retórica anestésica. Fala-se em liberdade para justificar controle; em justiça, para legitimar exceções; em democracia, para silenciar o dissenso. O vocabulário nobre funciona como verniz — e verniz, como se sabe, não é madeira.
Assim, a carta se revela não como um gesto de moderação, mas como um esforço de legitimação. O Supremo se apresenta como um bastião da democracia, mas atua como protagonista não eleito de uma nova engenharia institucional, onde a Constituição é invocada para justificar sua própria mutação silenciosa.
Em nome da democracia, o STF tornou-se seu curador. Em nome da liberdade, tornou-se seu editor. Em nome da Constituição, tornou-se seu autor.
E isso, por mais elegante que soe, é uma distorção republicana — e uma ameaça real à liberdade.
 *Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos Fundadores e Presidente da Lexum.
*Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos Fundadores e Presidente da Lexum.